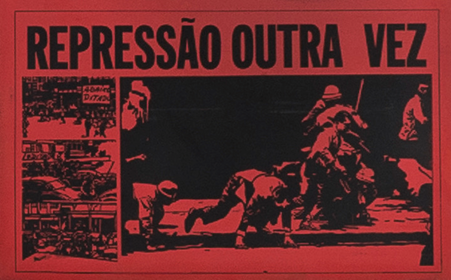Em Bacurau (dir. Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, Brasil, 2019), o cangaço é um mito, no qual a reação dos oprimidos promoverá a revolução dialética da história: os donos do poder serão punidos como criminosos, os criminosos serão alçados a senhores da verdadeira justiça. Sem restar pedra sobre pedra, os injustiçados serão redimidos, os irridentos da história mostrarão quem são os verdadeiros donos do lugar e, ao final, numa catarse memorável, será invertido o eixo do terror, com os terroristas surpreendidos e aterrorizados dentro do território das vítimas, pelas próprias vítimas que, como a ave do título, saltam do chão para atacar quem as ameaça.
A história de certo lugarejo com nome de ave é uma suposta metonímia da situação atual do país. Todos nós, hoje, habitantes desse imenso sertão brasileiro, participamos de um terrível cangaço nacional, uns mais propensos a um banditismo justiceiro, outros como forasteiros num território que jamais reconhecerão como sua terra. Uns personificam todo o mal, todo o preconceito, o total retrocesso; outros, o lado bom, porém marginalizado, da história (podemos acrescentar, outros, ainda, são meros espectadores). Para compor o cenário, o filme retoma dos cangaço histórico diversos elementos, como a ostentação e os ornamentos nos trajes cangaceiros, pós-modernizados nos adereços e na androginia de Lunga (Silvero Pereira); mostra também os sudestinos arrogantes como os soldados rasos de uma milícia-volante, paus-mandados de estrangeiros invasores ainda mais arrogantes; a caatinga como território dúbio, ao mesmo tempo condição de isolamento e de sobrevivência, ainda que precária; a ligação entre erotismo e morte. Com esses e muitos outros elementos, Bacurau reativa certa ideia do cangaço, condizente, é verdade, com a história da recusa da regra do colonizador estrangeiro. Mas condizente com o que mais? Bem, Bacurau prefere recontar um mito já plenamente digerido por seus espectadores confortavelmente acomodados.
O cinema nacional sempre gostou de ver no cangaço a vida primordial e absoluta que o colonizador busca por todos os meios extirpar. O sertão longínquo e esquecido foi feito nosso velho Oeste, onde cada um vive sem lei nem rei e feliz, à própria sorte, à margem ou mesmo além de qualquer fronteira ou domínio, em franca liberdade. Território aberto onde gado e vaqueiros não conhecem cercas, o sertão é o nosso estado de natureza, onde vale o olho por olho, dente por dente. Bacurau reconta esse mítico sertão acrescentando-lhe a vida em comunidade como valor incontornável.
Em Bacurau, os habitantes locais — párias sociais, excluídos, esquecidos, marginalizados — são bons, os de fora é que são malvados, terroristas predatórios. Para derrotar esses terroristas e salvar a própria vida, os bacuraus resgatam suas origens, revivendo o cangaço, armando uma guerrilha letal contra os invasores. Quando menos esperam, de ocultos, os inimigos passam a descobertos, de espreitadores a espreitados, perdendo, assim, o controle do jogo de luz e sombras de sua estratégia. Toda tecnologia que carregam mostra-se inútil contra os bacuraus. Em vez de tentar defender o território, eles convidam os invasores a chegar mais perto: — “entrem, conheçam, é interessante”, diz Domingas (Sônia Braga), olhando para nós, espectadores, como se nós fôssemos os invasores, ainda iludidos em nossa confortável posição de espectadores distanciados. De fato, o espectador nunca está totalmente fora do espaço do filme. O convite à aproximação revela a ineficácia do rifle e do olhar à distância. Aos bacuraus (como outrora aos cangaceiros seus ancestrais), interessa mais o corpo a corpo, a luta e a degola à faca. Quem os vê de longe pode se enganar. Quem adentra sua terra, está à mercê de seu domínio. Nada aparece como é, tudo pode ser diferente, e todos podemos estar sob o efeito de fortes psicotrópicos ou ilusões cinemáticas. O filme lança, assim, um repto de meta-reflexão aos espectadores. Mas consegue sustentar esse desafio?
Ora, a força catártica do filme depende da aceitação, pelos espectadores, dessa inversão do eixo do terror e do olhar. Para falar explicitamente, a catarse final depende totalmente da confirmação de algumas expectativas por parte do público relativas ao mito do cangaço exibido na tela. Recheado de citações, bem ao gosto pós-moderno, o filme não escapa do convencional. Mesmo que bem escolhidas, as referências apenas compõem um pastiche, por certo, impecável: nenhuma fantasia de liberdade ou rebeldia é ressignificada, nenhuma superação das contradições é imaginada. É claro que a “crítica” mediática vai escarafunchar cada uma das alusões, chafurdando em Peckinpahs. Johns-Carpenter, Kurosawas, Mazzaropis (esses menos), Glaubers etc. Mas todo esse name-dropping é banal, uma vez que a catarse final só faz sentido a quem quer a catarse que o filme tem a oferecer. A quem duvida de que o cangaço seja uma saída, Bacurau tem pouco ou quase nada a dizer, pois, sem levar às últimas consequências a violência desencadeada na tela, o filme acaba levando-se a sério demais. No fim das contas, é bem condizente a certa ideologia contemporânea: aparentemente revoltoso (para falar como os antigos), mas essencialmente conformado. Em vez de brigar, esperneia.
É claro que narrativa alguma precisa da verdade factual para ter legitimidade. No entanto, mito algum resiste ao confronto com os fatos. Para fazer desabar o mito do cangaço primordial, basta lembrar, por exemplo, que Lampião, longe de ter sido o paladino da justiça que a cultura de cordel gravou, tornou-se capitão de uma milícia paramilitar de caça à Coluna Prestes, sob as bênçãos de Padre Cícero, tal qual um capitão do mato, mercenário oportunista. Sem jamais ter sido uma forma de organização popular e coletiva, o cangaço não foi, não é e nunca será solução para nenhum dos nossos problemas.
O mito de Bacurau conta que, apesar de ganha a batalha, a ameaça do terror continua. Assim não fosse, que sentido sobraria do mito do cangaço-guerrilha? Ao fim e ao cabo, o filme acaba apenas por reafirmar o que certo público já espera ver. Como o mais comum dos cordéis do senso-comum, o roteiro peca pelo excesso: sem as palavras de Michael (Udo Kier) quando consumada sua derrota, o sentido da vitória dos desterrados em sua própria terra seria o mesmo? Toda a potência da reação contra o opressor depende, no fim, da palavra do próprio opressor — é isso mesmo?
O filme sugere, sim, algumas perguntas ao senso-comum. Que forças socialmente explosivas a violência do cangaço por fim libera? Que experiências libertadoras podem ser desenterradas da cultura popular pela via do cangaço? Infelizmente, em momento algum a narrativa dirige uma olhadela — sua mesma ou dos espectadores — às razões que, antes de tudo, possibilitam a polarização entre as vítimas e os algozes, bons e maus, colonizados e colonizadores, ocupados e ocupantes. Antes, oposições dessa natureza são um pressuposto inquestionado do filme, o qual coerentemente dirige o olhar tão só às consequências, já que as toma como fato consumado. Mas não poderiam essas oposições ser o resultado de uma grotesca comédia de erros de nós mesmos, nós, os bem-intencionados, nós, os espectadores distantes, nós, os que somos os outros dos outros? Afinal, se nos julgamos capazes de representar os “infensos a serem redimidos de suposta selvageria pelo caminho da comunhão com os valores coloniais” (Guerreiros do sol, p. 18), devemos perguntar pela nossa parte de responsabilidade nessa barbárie toda, não?
É dura a vida dos que têm fome de pão, diz um evangelho apócrifo de cujo autor não me lembro, pois espírito algum jamais lhes saciará. O mesmo apócrifo poderia complementar: nem espírito, nem vingança. O retorno do cangaço, com força, a aterrorizar incautos e alheios, mostra quão profundas são suas raízes na vida nacional, bem como o quanto a realidade que supomos absurda e paralela pode nos surpreender a qualquer momento, quando menos esperamos.
Bibliografia
Walter Benjamin. O narrador — considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sergio Paulo Rouanet. Prefácio Jeanne-Marie Gagnebin. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 197–221.
Frederik Jameson. Pós-modernidade e sociedade de consumo. Trad. Vinícius Dantas. In: Novos Estudos-CEBRAP, São Paulo, nº 12, junho de 1985, pp. 16–26.
Frederico Pernambucano de Mello. Guerreiros do sol: violência e banditismo no Nordeste do Brasil. Prefácio de Gilberto Freire. 5ª ed. revista e atualizada. São Paulo: A Girafa, 2011.